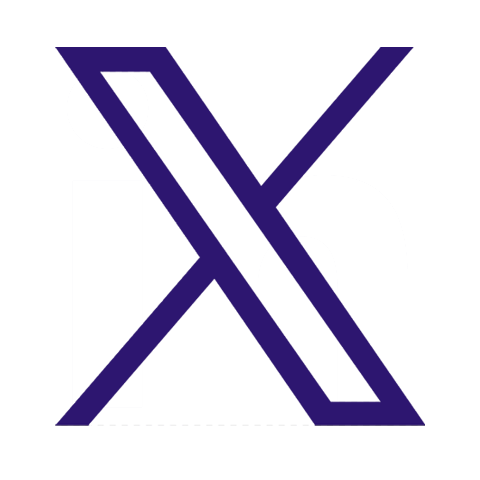Gente Pobre
Eu vou contar uma história, simples, mas bonita, digna. Em tempos tão duros quanto o nosso; sim, vislumbramos atitudes merecedoras de aplausos; lamentavelmente assistimos horrorizados a uma corja que brinca, despreza e ri da dor alheia. Para essas pessoas é muito mais importante levantar “bandeiras” de políticos e empresários corruptos, egoístas, que fazem negociatas com o dinheiro público. Defendem os interesses escusos de uns poucos como se estivessem em um campo de futebol torcendo para um time qualquer; ao fim do jogo voltam para suas casas e suas misérias humanas enquanto alguns dos “jogadores” se fartam. A história que vou contar aconteceu há exatos dois dias antes do começo da pandemia do Novo Coronavírus e do isolamento. Foi um encontro que acalma a alma. Foi na Farmácia de Alto Custo, em Campinas. Vou narrar essa história no tempo presente.
Era uma vez,
“dezenas de pessoas, velhas, doentes, a maioria, sentadas à espera da droga para aliviar a dor física, a dor mental. Ou ambas. Mais gente que lugares para que os corpos cansados possam descansar e respirar um pouco. Difícil respirar o ar de abandono, desesperança. No painel piscam as senhas preferenciais, normais… É uma trilha sonora minimalista. Os olhos ficam grudados, ansiosos por sua vez. Todos à espera do veredito.
– Inocente! Pode pegar sua droga. Antes, mais uma lenta agonia em outra sala. Algo como sair do inferno para o purgatório. O paraíso? A sacolinha de plástico cheia de drogas.
– Culpado! Meia-volta, volver ao pré-inferno. Há mil e uma possibilidades para isso, até a vírgula fora de lugar, cor de caneta errada, sintomas não esclarecidos. Voltar para casa sem a dose da esmola em forma líquida ou em cápsulas é quase uma sentença de morte.
Eu estou na fila a poucos passos da primeira barreira. À minha frente, um homem troca algumas palavras com uma mulher; palavras que saem entre pequenos assovios, muitas vezes incompreensíveis por causa dos dentes intercalados; espaços vazios da pobreza, do abandono. Ele veste uma camiseta puída sem cor definida, porém consigo identificar a estampa da banda britânica “Iron Maiden”, heavy metal preste a rasgar. Ironia: a tortura medieval é a tortura diária em tempos atuais. Chega a vez dele, nada feito. Submisso a mais uma negação da vida, recomeça a marcha descompassada em direção à saída; já não tem mais forças e nem entendimento do que se passa por não conseguir ir além da primeira trincheira.
Em seguida, sou eu. Ufa, depois de quatro tentativas, passo à etapa seguinte. Sentada em uma cadeira de plástico cinza, branca; já nem sei qual é a cor de tão descascada; olho o painel, minha senha é N7147. Ainda terei que esperar algumas combinações de números e letras. Demora, demais. Então, pego um livro em minha mochila. Há meses estou parada na mesma página e, hoje, mal consigo ir além aqui nessa antessala, em meio às vozes, ora de revolta, ora de indignação, lamentos, silêncios resignados.
O lugar ao meu lado fica vazio e logo é ocupado por alguém que, de soslaio, vejo se sentar. Alguns minutos e a voz de um homem me faz interromper a leitura arrastada que se perde na dificuldade dos sobrenomes russos.

– É uma boa leitura, pergunta.
Fecho o livro e olho ao meu lado. É um senhor de cabelos branquinhos, não mais que um metro e meio de altura. Mostro a capa e digo que sim, é do escritor russo Dostoiévski, ‘Gente Pobre’. Sem saber por que, bate um constrangimento.
O homem de voz suave se apresenta:
– Me chamo Israel, prazer.
– Eu me chamo Angélica, muito prazer.
Nem ele, nem eu, falamos os nossos sobrenomes. Neste lugar não tem serventia alguma saber quem é seu pai, sua mãe, de onde veio, sua história, por fim.
Alinhado e elegante em sua camisa branca listrada de azul; calça cinza de tergal passada com vinco; molho de chaves pendurado no seu bolso; do nada, começa a declamar uma poesia. É de Olavo Bilac. Eu tenho idade suficiente para me recordar de quando estudava no ‘grupo’ e ‘ginasial’ e Olavo Bilac era lido em sala de aula. Na minha casa havia algumas coleções de livros de literatura, dessas que os caixeiros-viajantes iam oferecendo de porta em porta e eram recebidos como celebridades. Em Indiana, cidadezinha do interior paulista, onde nasci, pelo menos era assim. Eu me lembro de um desses vendedores com sua maleta preta, sentado no sofá vermelho e minha mãe e meu pai vendo as novidades no catálogo. Uma das coleções adquiridas era justamente do maior expoente da poesia parnasiana do Brasil. Os livros tinham capa verde-escuro e traziam em letras douradas o título da obra e o nome de Olavo Bilac.

‘Ora (direis) ouvir estrelas!’, logo me vem à mente o início de um dos sonetos de ‘Via-Láctea’, mas seu Israel se apruma na cadeira e declama, com toda pompa, por completo, ‘A Pátria’:
‘Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!
Criança! Não verás nenhum país como este!’
(…)
Quando seu Israel termina de declamá-la seus olhos ficam marejados. Não tenho outra reação a não ser parabenizá-lo e dizer que ‘linda poesia’. Em silêncio, nos olhamos brevemente porque o painel piscou a senha dele, preferencial. Olho aquele homem franzino, segurando um saquinho plástico, caminhando em direção ao balcão de atendimento. Tudo certo. Felizmente seu Israel vai conseguir pegar os medicamentos da esposa. Ao passar por mim, sorri.
Bem, eu não fui ‘aprovada’ a seguir adiante. Erro no preenchimento do ‘cid’, código que o médico coloca de classificação da doença. Terei que voltar pela quinta vez. Cansada, não falo nada à atendente, o que ela poderia fazer? Faço questão de passar pela sala onde seu Israel está para dar um ‘tchau’. São pessoas assim que nos marcam, nos engrandecem, que vale a pena trocar palavras, sentir o cheiro, ouvir a voz. Quanta história, quanta experiência de vida. Eu, certamente, não mais o verei. Fora do prédio, pesquiso no Google a poesia declamada por seu Israel. Eu não a conhecia. Outros versos chamam a minha atenção:
(…)
‘Boa terra! Jamais negou a quem trabalha
O pão que mata a fome, o teto que agasalha…’
(…)
Balanço a cabeça, ironicamente. A métrica perfeita de Olavo Bilac, morto há mais de um século, não condiz com o Brasil ‘desgovernado’ no qual seu Israel, no alto dos seus 90 anos, e eu, nos meus 59 anos, vivemos, ou melhor, sobrevivemos”.
Newsletter:
© 2010-2026 Todos os direitos reservados - por Ideia74