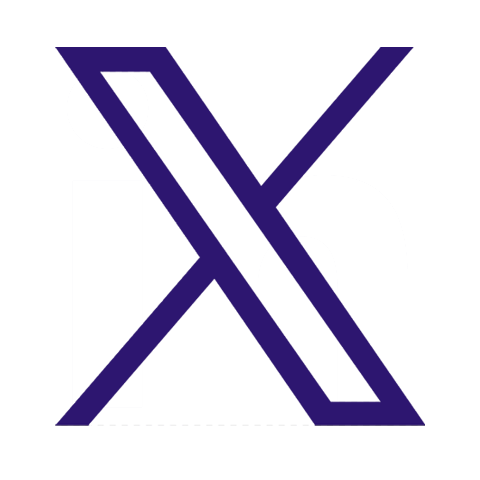A Dama do Cinema
Aposto que quando a (quase) iniciante diretora Phyllida Lloyd resolveu rodar A Dama de Ferro, não titubeou em convidar Meryl Streep como bengala para prováveis imprecisões em sua obra, afinal a grande dama do cinema mundial é historicamente capaz de compensar buracos em roteiros e fragilidades em diretores com sua força interpretativa inigualável. Não que o filme seja ruim, pelo contrário, é humano e delicado, mas peca na falta de compromisso com a trajetória política da biografada.
A fulana em questão é Margareth Tatcher, primeira e única representante feminina no posto de premiê britânica até hoje, responsável pelos 11 anos de maior crescimento da economia da Inglaterra no século XX graças ao neoliberalismo, linha política que prega a privatização, o corte orçamentário e a meritocracia como passos para o desenvolvimento social. Do lado oposto, postados como grandes inimigos de Tatcher, estão os socialistas, que abominavam o tom elitista e individualista com que Maggie (ou a “dama de ferro”, como a apelidaram) governava, e defendiam a reforma agrária, a estatização e a coletividade como saídas para uma sociedade mais justa.
Estas informações, no entanto, soam obscuras e até ininteligíveis para quem não tem familiaridade com política e/ou não viveu durante o mandato de Tatcher, como é o meu caso. E parece que Lloyd não pensou nesse público ao criar uma trama que simplesmente omite inúmeras passagens políticas da vida da biografada a favor de um amontoado de cenas que esgotam as possibilidades de convivência entre uma Tatcher octogenária e seus delírios que materializam o fantasma do marido morto há anos e revelam a demência eminente.
Já estava claro para quem acompanhou as informações do filme antes de sua estreia que ele trataria a política como coadjuvante, mas é decepcionante pensar que tantas nuances da vida de Tatcher poderiam ter sido inclusas na edição final em detrimento de cenas inúteis e que apenas confirmam a inabilidade de Lloyd para retratar nas telonas uma figura tão importante como foi Maggie. O foco apolítico do roteiro é uma saída para tentar fazer um filme sobre política sem ser um filme político, mas faltou equilíbrio em A Dama de Ferro; o espectador fica sabendo tudo sobre as amarguras de uma idosa solitária e sua trajetória pessoal e familiar, mas terminam a sessão sem conhecerem os motivos e as circunstâncias que levaram Tatcher ao topo da liderança do Partido Conservador Britânico, seus ideais e suas aspirações políticas. É justo com as novas gerações, que sequer sabem quem foi a primeira ministra?
No afã de produzir uma obra delicada, humana e com um sopro feminista, Phyllida Lloyd conta com a ajuda indispensável de Streep, que, segundo a própria diretora, é a alma do filme. Com sua versatilidade já conhecida, a americana de 62 anos, cheia de coragem e uma pitada de ousadia, interpreta várias etapas da vida de uma das mais importantes britânicas da história política do século passado. O resultado? Uma atuação que transcende os defeitos da obra, segurando os pontos fracos e permeando, de maneira exuberante, a ascensão e o declínio de Tatcher.
Apesar da pesada, e muito convincente, maquiagem (que envelhece a atriz em cerca de 25 anos) e da dentadura que revela a protuberância gengival característica de Tatcher, a força da expressão de Streep é maior que o próprio filme. Assentada em um forte acento britânico, digno até de fazer inveja aos nativos, Meryl apresenta mais uma de suas personagens marcantes, aquelas que vivem sua feminilidade, custe o que custar, em busca de felicidade, como foi em Kramer vs. Kramer, A Escolha de Sofia, Entre Dois Amores, As Pontes de Madison, As Horas, Mamma Mia, Simplesmente Complicado e tantos outros.
Sobre a disputa pelo Oscar de Melhor Atriz, está é a décima sétima indicação de sua carreira, ranqueando-a como a mais indicada da história do cinema. Se ganhar no próximo dia 26, subirá no palco pela terceira vez para segurar a estatueta dourada. E tomara que isso aconteça! Sua maior concorrente, a atriz Viola Davis, de Histórias Cruzadas, pode até ter tido um desempenho memorável, mas não precisou de tanto esforço teatral e versatilidade para interpretar uma negra americana em uma ficção sobre racismo (já que é negra e americana) do que uma norte-americana que teve de se transformar para viver, quase que de maneira documental, uma britânica que existe no mundo real, está viva, e que foi na mesma proporção amada e odiada pelos seus conviveres e por toda a nação britânica. Sendo assim, é mais do que conveniente que a estatueta vá para as mãos de Streep. Vamos torcer…
Newsletter:
© 2010-2026 Todos os direitos reservados - por Ideia74