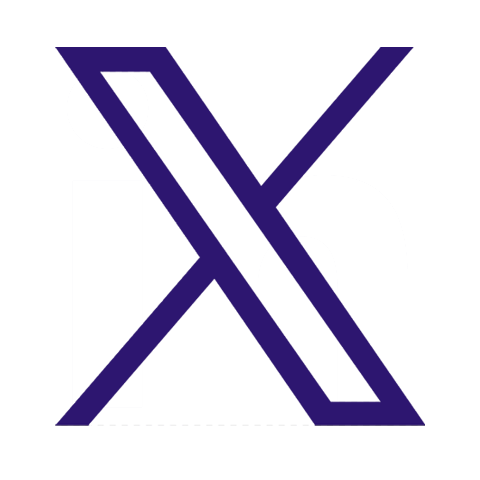As obsessões e a generosidade de Tarantino
Há uma variedade de formas de ver uma obra de arte. No caso de “Era uma Vez em… Hollywood (“Once Upon a Time…in Hollywood”, EUA, 2019), de Quentin Tarantino, que passou na competição oficial do Festival de Cannes, em maio, e está em cartaz em Campinas, vou destacar duas.
A primeira é ver como o cineasta de “Pulp fiction – Tempo de Violência” (1984, Palma de Ouro em Cannes) fixou de modo irreversível o olhar obsessivo sobre um cinema feito em passado distante e chamado pejorativamente de “filme B”. Trata-se de uma nostalgia impregnada no cineasta americano, sem a qual ele não vive.
Obsessão pode ser um comportamento bom ou ruim. Neste caso, positivo, por conta da qualidades intrínsecas do filme, mas que tende a se tornar repetitiva e pouco inspirada. A repetição está lá e não necessariamente afeta o resultado final – talvez o apure. A inspiração, sim, acaba prejudicada.
Na nova história, o tema remete a esse tempo remoto (ano de 1969) com suas inúmeras referências, mas estabelece um foco inescapável sobre outros trabalhos do diretor, em especial “Bastardos Inglórios” (2009), um dos melhores filmes da grife Tarantino.
O mesmo princípio deste de recontar a história real se repete em “Era uma vez…”; porém, qualquer detalhe que se mencione sobre a trama entrega o filme. Aliás, “Bastardo…” é citado explicitamente no mote inicial e até em uma cena na qual Rick Dalton, o personagem de Leonardo DiCaprio, no filme dentro do filme, mata nazistas como um lança-chamas.
A segunda maneira é observar como Tarantino, igualmente, se fixou em fazer filmes que atendam à essa obsessão dele e dialogue com os fãs. Os fãs do diretor vão amar “Era uma Vez…” porque lá estão todos os fantasmas do diretor, a começar pela violência fake e feita com intuito humorístico, mas com conotação séria. Em “Bastardos…”, por exemplo, ao matar Hitler, ele consumou o que muita gente tentou e não conseguiu.
A violência é falsa, mas agressiva. Se é para esmagar a cabeça de alguém, isso será feito de modo explícito e com requinte. Se é para “torrar” o corpo de algum opositor, ele usa o fogo em profusão. A reconstituição de cenários e histórias, os nomes (inclusive de vivos) citados e o tom operístico do final, tudo vem ao encontro do que o fã espera. Isto também pode ser bom ou ruim; no caso, tentarei demonstrar que, em “Era uma vez…”, é bom.
Estilo
É preciso gostar do estilo Tarantino e do cinema auto-referencial para curtir o filme. Entretanto, mesmo quem despreza o tipo de cinema feito por ele não pode negar a qualidade da produção. Refiro-me ao modo de realizar, o jeito de filmar. A maturidade lhe fez bem. Ele não testa, ele sabe o que busca e alcança os objetivos.
Pode parecer contraditório, mas em meio ao caos ele aposta na beleza. São lindas as panorâmicas – cada vez mais ausentes do cinema adaptado para as telas menores da TV – assim como são bonitas as cenas criadas unicamente para exercitar a estética, caso da cavalgada empolgante de Tex (Austin Butler) ou do encontro de Rick Dalton com a garota Trudie (a ótima Julia Butters).
Formalmente, o cineasta criou uma narrativa inimitável e que ele faz tão bem: os episódios estanques, como se fossem contos, que juntos formam uma história ou um conceito. E, se não são brilhantes como a caça do judeu em uma região francesa rural de “Bastardos…”, continuam efetivos.
E dá enorme prazer assistir ao esnobado Leonardo DiCaprio atuar. A cena diante do espelho se penitenciando é magnífica, como é aquela em que ele sequestra a garotinha. Brad Pitt, que eu sempre considerei esforçado, está bem no papel de Cliff Booth. Segue um tanto o caminho artificial do personagem dele em “Bastardos…”, mas está melhor constituído e convincente.

Mas “Era uma vez…” se define na personagem cheia de charme de Sharon Tate (a delicada Margot Robbie). Tarantino reserva um olhar extremamente carinhoso para ela – a cena de Sharon anônima na plateia vendo um filme do qual participa é bela como é amorosa a homenagem à atriz assassinada naquele ano de 1969.
As sequências finais revelam que até um diretor obcecado pela violência (mesmo falsa) se sensibilizou com a barbárie da história real e tratou a tragédia com benevolência. Em “Era uma Vez…” pode haver pouca inspiração, mas sobra generosidade.
PS: Veja os créditos antes de sair da sala.
Newsletter:
© 2010-2026 Todos os direitos reservados - por Ideia74